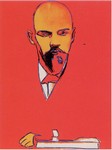Bring it All back Home (II)
Sou leitor habitual do
Babugem e compartilho muitos dos gostos do Ricardo em discos, filmes e livros, mas poucos posts seus me tocaram como o de anteontem:
‘Um mundo sem discos’.
Porquê? Porque também vejo com horror o mundo sem discos.
Discos à séria, originais, daqueles que são vendidos por muito mais daquilo que custam. Os que saem num dia certo, para os escaparates de uma loja e, depois de manuseados, aí são comprados. Ou que chegam num embrulho enviado da Amazónia. Que dão a sensação e o título de posse e, acima de tudo, de propriedade. Individual. Sobre os quais se pode dizer ‘são meus’ sem estar a mentir.
Serei um idiota, mas sou incapaz de não comprar 'o disco'. Mesmo que já tenha uma cópia ou facilmente consiga vir a tê-la, se gosto da música, vou e compro o original. Felizmente posso, mas, se não pudesse, julgo que também assim seria.
Fui educado no tempo dos LP's. No tempo em que as capas eram a coisa mais importante dos discos, o fundamental, e o que lá vinha dentro, a música, era para ouvir em sua função. Tempo em que a possibilidade de fazer uma cópia implicava a gravação de uma cassete, dentro da qual havia uma etiqueta padronizada, com mais (BASF, Sony) ou menos linhas (TDK), onde o nome das músicas era inscrito à mão e na lombada, também à mão ou com letras de kalkito, escrevia-se o nome do disco. Com uma letra medonha, nunca gostei de as ostentar. E falar na 'minha colecção de cassetes' era algo que me deixava com o orgulho em baixo.
O objecto ‘cassete’ sempre me fez lembrar coisas demasiado estéreis, como aulas gravadas, audiências, atendedores de chamadas, ou inoperantes, como jogos do spectrum que não 'entram', ou parafusos mal apertados. É absurdo, mas sempre que penso na palavra cassete, penso logo na palavra repartição. De quê? Pública? Das músicas e da música pelo público? As cassetes não têm vida. A sua funcionalidade aceitável resumiu-se à gravação de compilações para ouvir nas férias e de discos que não se podiam ter, apenas e só, enquanto não se podiam comprar.
Dir-me-ão que agora é diferente, que com o aparecimento dos CDs o fetishismo pelos discos esmoreceu (onde estão as capas de desdobrar dos Yes), e que as cópias de um CD são feitas para um outro CD, de forma e aspecto idêntico.
Não é bem assim. Não é nada assim. Como diz o
Ricardo, continua a pôr-se o problema das capas, dos livretes, das embalagens, até porque, a pouco e pouco, cada vez mais editoras têm vindo a colocar imaginação, talento e cuidado na sua concepção e elaboração. Acresce que, também os CDs para copiar me provocam incontroláveis associações reflexas. Assim, a seco, as rodelas prateadas com a legenda a marcador trazem à memória coisas tão desagradáveis como salas de informática, help desks, cd roms e aquela mania miserável que algumas pessoas têm de as pendurar no espelho retrovisor do carro, a qual ainda não consegui perceber se se deve a alguma superstição (bruxaria?) ou apenas ao péssimo gosto dos donos dos carros.
Fazer downloads (é assim que se diz? Fazer?) para o computador, também não gosto. Desde logo por recusar ouvir música saída de um computador - outra das bizarrias que ainda cultivo é a de gostar de aparelhagens, de preferência estéreo, para as quais a grande maioria dos bons discos foram gravados. Dopo, porque a ideia de ouvir música tirada da Internet assemelha-se à de comer arroz emprestado pela vizinha – solução à qual apenas em casos de desespero se deve recorrer.
Habituei-me a tratar um disco como algo íntegro, em que a embalagem é o corpo e a música que a dita embala, a alma, uma alma que vive para além do disco, como - para quem acredita - a música vive para além do corpo. Mas não tenho dúvidas que tudo seria mais pobre e maçador, se já nesta vida as almas largassem os corpos e a música se soltasse dos discos. Abaixo o mundo sem discos.